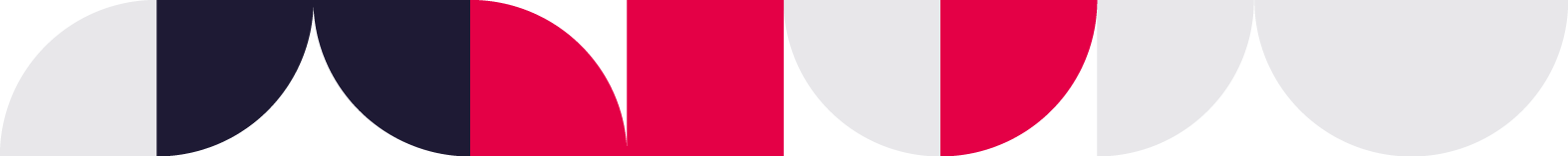O agronegócio é o motor da economia brasileira, e, em seu cerne, o cooperativismo agropecuário emerge como um modelo de organização social e econômica de crescente relevância. Longe de ser uma simples associação, a cooperativa de produção representa uma estrutura colaborativa que confere aos produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, um poder de atuação e uma resiliência que seriam inatingíveis de forma individual. Ao unir a força produtiva, logística e negocial, as cooperativas se tornam estruturas estratégicas para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, viabilizando o acesso a insumos, o escoamento da produção e a absorção de tecnologias de ponta.
O modelo cooperativista é um fenômeno social e econômico que se distingue por sua natureza híbrida. Conforme a legislação brasileira, a cooperativa é formalmente classificada como uma sociedade, mas com uma forma e natureza jurídica próprias, de caráter civil. A razão para essa classificação especial reside em seu princípio fundamental: a cooperativa é uma “sociedade de pessoas”, e não uma “sociedade de capital”. Em uma sociedade capitalista tradicional, o poder de voto e a distribuição de resultados estão diretamente vinculados ao volume de capital investido por cada sócio. Em contrapartida, em uma cooperativa, o voto é singular (“um associado, um voto”), o que assegura a participação democrática e a equidade entre os membros, independentemente de sua contribuição financeira. A finalidade primordial da cooperativa não é a geração de lucro para seus sócios, mas a prestação de serviços essenciais para a melhoria das condições econômicas e sociais de seus membros, com o resultado financeiro (as “sobras líquidas”) sendo distribuído de forma proporcional às operações realizadas por cada um.
A natureza de “sociedade de pessoas” é a principal fonte de todas as particularidades jurídicas que modelam o cooperativismo. É a base que permite a não sujeição à falência e a ausência de objetivo de lucro, distinguindo a cooperativa do direito empresarial comum. Essa mesma lógica de não lucro e de voto singular, que protege e legitima a estrutura, também gera paradoxos jurídicos.
Por exemplo, a ausência de mecanismos legais de reestruturação de dívida, como a recuperação judicial, é uma consequência direta dessa diferenciação. Enquanto a lógica cooperativa protege a instituição de uma insolvência, ela também a deixa sem um instrumento moderno para enfrentar crises financeiras severas, o que a expõe a riscos operacionais significativos em cenários de dificuldade econômica.
Em contrapartida, uma decisão recente e de grande importância do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trouxe um marco vital para a segurança jurídica do modelo cooperativista. O tribunal consolidou o entendimento de que os atos cooperativos – como empréstimos concedidos a seus membros – não se submetem aos efeitos da recuperação judicial de um associado devedor. Esse precedente protege o patrimônio das cooperativas e reafirma a natureza singular e os objetivos sociais dessas instituições, assegurando a estabilidade das operações e a confiança de seus milhões de cooperados em todo o país.
A Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, é a principal regulamentação das cooperativas no Brasil, estabelecendo seu regime jurídico e definindo a Política Nacional de Cooperativismo. O Artigo 4º detalha as características essenciais do modelo, as quais incluem a adesão voluntária e ilimitada de associados, o capital social variável, a limitação do número de quotas-partes para cada associado e a impossibilidade de transferência das quotas a terceiros que não sejam parte da sociedade. A norma também prevê que as cooperativas são sociedades de natureza civil e não estão sujeitas à falência, um diferencial que confere segurança jurídica ao modelo.
Com o advento do Novo Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406/2002), algumas disposições da Lei das Cooperativas foram harmonizadas, especialmente no que se refere ao número mínimo de associados. O Código Civil revogou a obrigatoriedade de um número fixo de 20 pessoas, estabelecendo que é necessário apenas um número de associados suficiente para compor a administração da cooperativa e seu conselho fiscal, levando em consideração a necessidade de renovação. Em nível federativo, a lei ainda estabelece a necessidade de, no mínimo, 3 (três) cooperativas singulares para formar uma cooperativa central ou federação, e um mínimo de três cooperativas centrais para formar uma confederação.
A tabela a seguir oferece um guia prático sobre as principais normas que regem o cooperativismo agropecuário e seus impactos diretos para o associado.
| Lei ou Norma | O que estabelece | Impacto para o Cooperado |
|---|---|---|
| Lei n.° 5.764/71 | Lei Geral das Cooperativas: define o regime jurídico, características (voto singular, capital variável) e veda a falência. | Garante a natureza democrática do voto e protege a cooperativa da insolvência, mas a deixa sem um mecanismo de reestruturação de dívida. |
| Lei n.º 10.406/2002 (Código Civil) | Flexibiliza a constituição de cooperativas singulares, que não precisam mais de 20 associados, mas apenas do suficiente para a administração. | Simplifica o processo de criação de novas cooperativas, permitindo a união de grupos menores para fins específicos. |
| Lei n.º 13.806/2019 | Concede legitimidade extraordinária para a cooperativa representar seus membros em ações judiciais coletivas. | Fortalece a capacidade de defesa de direitos e interesses coletivos em juízo, desde que a prerrogativa esteja no estatuto social. |
| Lei n.º 14.112/2020 (alteração da Lei de Falências) | Exclui expressamente os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial. | Protege o crédito da cooperativa, garantindo a sua prioridade de recebimento, mas cria uma assimetria legal para o produtor rural endividado. |
As cooperativas agropecuárias enfrentam desafios jurídicos específicos, sendo um dos mais recorrentes os conflitos internos de governança. Um problema dessa ordem é o chamado moral hazard ou risco moral, no qual o associado se beneficia dos serviços e vantagens da cooperativa – como crédito e assessoria técnica –, mas não cumpre integralmente suas obrigações, como a entrega de toda a sua produção para a comercialização coletiva. Essa conduta, embora antagônica aos interesses do grupo, muitas vezes não é punida, pois os dirigentes evitam a retaliação para não provocar a saída do cooperado.
A governança cooperativa é, para ocorrências dessa natureza, um instrumento que garante a direção, o controle e a proteção dos interesses de todos os associados. Mitiga a ocorrência de conflitos internos com o estabelecimento de práticas e condutas a balizar a forma como a cooperativa se relaciona com seus membros e vice-versa.
A confiança é um ativo intangível e valioso no cooperativismo. Quando uma estrutura de governança fortalece a confiança mediante a estruturação de roteiro de condutas e práticas apropriadas, ela reduz significativamente a probabilidade de litígios internos.
Além disso, a implementação de um código de conduta e de auditorias independentes, como estabelecido pela Resolução n.º 3.442/2007 para cooperativas de crédito, assegura a imparcialidade e a tomada de decisões no melhor interesse da cooperativa.