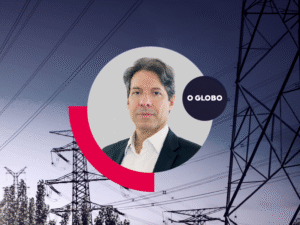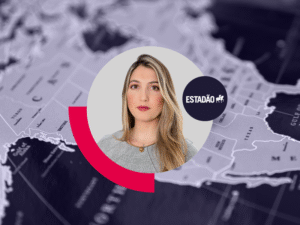Sabe-se que a Constituição Federal goza de superioridade hierárquica em suas normas, pois representa o fundamento de validade das demais leis vigentes no país. Dessa supremacia constitucional normativa decorre a chamada interpretação conforme a Constituição, uma técnica de interpretação que busca resguardar a eficácia normativa do texto constitucional. Em outras palavras, a superioridade hierárquica da Constituição Federal e a presunção de legalidade das leis demandam que, no exercício da atividade interpretativa, dê-se preferência ao sentido normativo que esteja em conformidade com a Constituição.
Assim, quando uma norma infraconstitucional comportar mais de uma interpretação, o Poder Judiciário deverá atuar como legislador negativo, adotando a opção mais harmônica com o texto constitucional e fulminando as demais interpretações de inconstitucionalidade. Partindo-se dessa premissa, verifica-se que a Constituição da República, em seu artigo 225, parágrafo terceiro estabeleceu a seguinte previsão em relação à responsabilidade das pessoas jurídicas por danos ambientais: “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
A partir dessa previsão constitucional, ocorreu uma verdadeira divisão jurídica nacional. De um lado, constitucionalistas como José Afonso da Silva entoaram a ideia de que a Constituição havia, nesse dispositivo, conferido uma permissão para a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Noutro lado, criminalistas, como o próprio René Ariel Dotti, resistiram em admitir essa permissão constitucional ao argumento de que, para o Direito Penal, há distinção técnica entre os vocábulos conduta e atividade, ignorada pelo outro grupo de juristas. Ademais, sustentam os criminalistas que o texto constitucional estabelece uma ordem cronológica e gramatical, onde as pessoas físicas estariam sujeitas às sanções penais e as pessoas jurídicas sujeitas às sanções administrativas.
Fato é que a Constituição de 1988 (embora não tenha sido o primeiro texto brasileiro a abordar o meio ambiente), adotou a proteção expressa e sistemática do meio ambiente. Para tanto, inspirou-se no texto constitucional português de 1976 e no texto constitucional espanhol de 1978. Interessante observar que o constituinte brasileiro optou por elevar o meio ambiente como bem jurídico de interesse penal. A intenção do legislador constituinte brasileiro foi dar uma resposta ampla à grave e complexa questão ambiental como requisito indispensável para garantir a todos uma qualidade de vida digna.
Em 1998, com a edição da Lei n.º 9.605/98, o legislador regulamentou, de forma expressa, a responsabilidade penal da empresa pelo dano ao meio ambiente e, naquela oportunidade, previu a possibilidade de aplicação de penas à pessoa jurídica e à pessoa física causadora do dano ambiental. Portanto, a incriminação das condutas lesivas ao meio ambiente praticadas por pessoas físicas e jurídicas foi uma opção do legislador, mas, antes dele, uma escolha do constituinte.
Na hipótese de responsabilização da pessoa jurídica pelo crime ambiental no âmbito do processo criminal poderão ser aplicadas penas restritivas de direito, de multa e de prestação de serviços à comunidade, de modo isolado ou cumulativo. A pessoa jurídica poderá também ser obrigada ao pagamento do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos causados pela infração, o que não se confunde com a pena de multa.
São três hipóteses de penas restritivas de direito que poderão ser aplicadas à pessoa jurídica: a) suspensão parcial ou total de atividades _ quando as pessoas jurídicas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente _; b) interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar e c) proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações por até dez anos.
Excepcionalmente, caso a empresa tenha sido constituída ou utilizada, de modo preponderante, com a finalidade de permitir ou ocultar a prática de crime ambiental, poderá ser submetida à liquidação forçada. A consequência, nestes casos, é a perda integral do patrimônio considerado instrumento de crime.